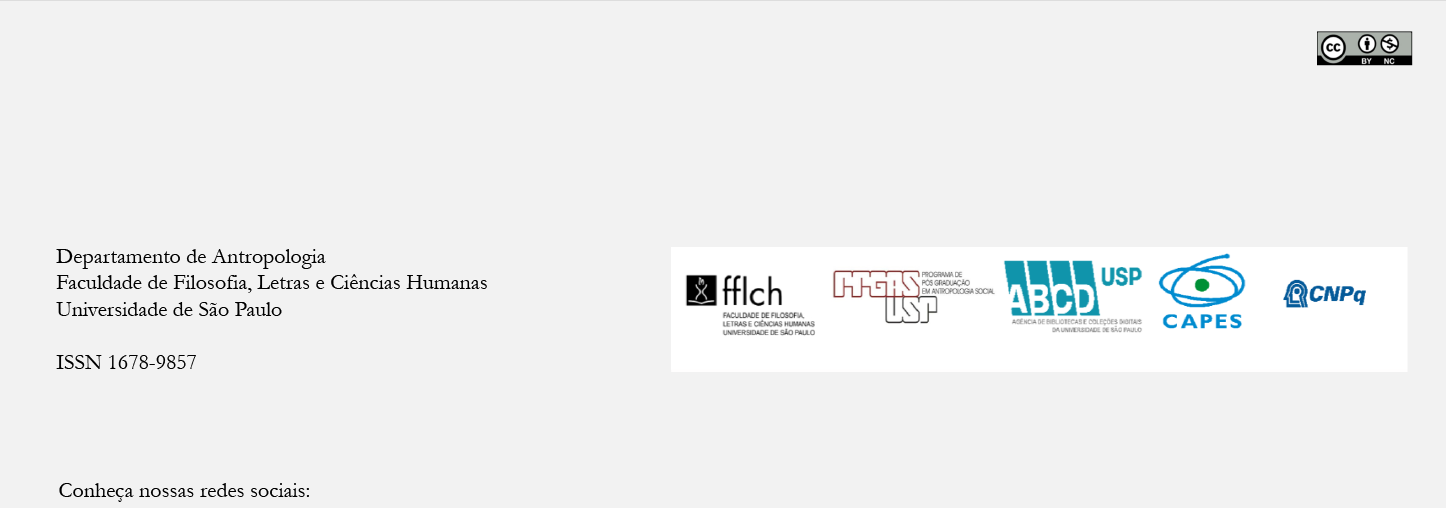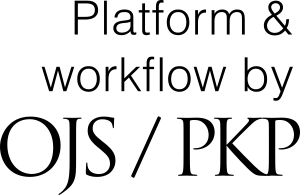From the coloniality of the gaze to indigenous cinema: on the (counter)coloniality in Abya Yala
DOI:
https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2022.201158Keywords:
Coloniality of the gaze, Indigenous cinema, First Nations Peoples, Visual regimes, Anthropometric portraitsAbstract
What historical world is (re)elaborated by the indigenous cinematography in opposition to the visual regimes that constitute the coloniality of the gaze toward the First Nations Peoples of Abya Yala? The article analyzes the imagistic (de)construction of the Other, starting from post-colonial, anthropological, and film studies perspectives. It focuses on the visual forms of the cinematographic, photographic and iconography, as construed by the cinema of First Nations Peoples, through the process of historical-formal reversal, giving rise to other historical variables. As conclusion, it points out that indigenous cinema presents itself in opposition to the cinematographic, anthropometric perspectives of painting, photography, and ethnographic film, with mechanisms of counter-coloniality. Such a mechanism can be identified in the works of Vincent Carelli, Ana Vaz and Paloma Rocha, and Luis Abramo, Takumã Kuikuro (Upper Xingu), Luis Tróchez Tunubalá (Misak), Francisco Huichaqueo (Mapuche), Álvaro and Diego Sarmiento (Quechua) and the Guajajara Collective (Jocy and Milson).
Downloads
References
ALVARENGA, Clarisse. (2017). Da cena do contato ao inacabamento da história. Salvador: Edufba.
BÀEZ ALLENDE, Christian. (2018). Cautivos: fueguinos y patagones en zoológicos humanos. Santiago, CL: Pehuén.
BARRIENDOS, Joaquín. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. Nómadas, Colombia, n. 35, 13-29.
BEIGUELMAN, GISELLE. (2021). POLÍTICAS DA IMAGEM: VIGILÂNCIA E RESISTÊNCIA NA DADOSFERA. São Paulo: UBU editora.
BELISÁRIO, Bernard. (2018). Desmanchar o cinema: pesquisa com filmes Xavante no Waia Rini. Tese de Doutorado em Comunicação Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG.
BRASIL, André. (2013). Mise-en-abyme da cultura: a exposição do “antecampo” em Pi’õnhitsi e Mokoi tekoá petei jeguatá. Significação, São Paulo, v. 40, n. 40, 245-265.
BRASIL, André. (2020). Confronting devastation: the guardian cinema of the Guajajara people. Film Quarterly, vol. 74, n. 2, 26–31.
CAIUBY NOVAES, Sylvia. (2010). El filme etnográfico: autoría, autenticidad y recepción. Revista Chilena de Antropología Visual, Santiago, n. 15, 103-125.
CAIXETA DE QUEIROZ, Ruben. (2008). Cineastas indígenas e pensamento selvagem. Devires: cinema e humanidades, Belo Horizonte, v. 5, n. 2, 98-125.
COMOLLI, Jean-Louis. (2004). Voir et pouvoir. Paris: Verdier.
CORDOVA, Amália. (2011). Estéticas enraizadas: aproximaciones ao video indígena al América Latina. Comunicación y médios, Santiago, n. 4, 81-107.
CUNHA, Edgar Teodoro da. (2016). O índio imaginado. São Paulo: Alameda.
DELRIO, Walter; Escolar, Diego; Lenton, Diana; Malvestitti, Marisa (ed.). (2018). En el país de nomeacuerdo. Viedma: UNRN.
FELIPE, Marcos Aurélio. (2020). Ensaios sobre cinema indígena no Brasil. Porto Alegre: Sulina.
FREIRE, Marcius. (2011). Documentário. São Paulo: Annablume.
GALLOIS, Dominique; Carelli, Vincent. (1991). Vídeo nas Aldeias: a experiência Waiãpi. Cadernos de Campo, São Paulo, v. 2, n. 2, 25-36.
GAMA, Fabienne. (2020). Antropologia e fotografia no brasil: o início de uma história (1840-1970). Gis: gestp, imagem e som, São Paulo, v. 5, n.1, 82-113.
MALDONADO-TORRES, Nelson. (2018). El giro estético decolonial frente a la guerra perpetua. In Diálogos desde el campo emergente de los estudios artísticos Lecciones inaugurales, ed. Maria Lucía Bustos, 17-24. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
MBEMBE, Achille. (2018). Necropolítica. São Paulo: N-1 edições.
MENDES, Marcos de Souza. (2006). Heinz Forthmann e Darcy Ribeiro: cinema documentario no Serviço de Proteção aos Indios, SPI, 1949-1959. 2006. Tese de Doutorado em Multimeios, Universidade de Campinas, Campinas, SP.
MOREL, Marco. (2018). A saga dos Botocudos: guerra, imagens e resistência indígena. São Paulo: Hucitec Editora.
PACHECO DE OLIVEIRA, João. (2016). O nascimento do Brasil e outros ensaios. Rio de Janeiro: Contra Capa.
QUIJANO, Aníbal. (2005). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In A colonialidade do saber, ed. Eduardo Landier, 17-130. Buenos Aires: Clacso.
TACCA, Fernando de. (2001). A imagética da Comissão Rondon. Campinas: Papirus.
SERVA, Leão. (2017). Eles estão com medo, Folha de São Paulo. http://arte.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/sebastiao-salgado/medo/. (Acesso em: 21/02/2022).
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2017. A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Ubu.
RUSSELL, Catherine. (2007). Otra mirada. Archivos de la filmoteca: revista de estudios históricos sobre la imagen, Valencia/Espanha, n. 57-58, 1, 116-152.
ZÁRATE MOEDANO, Rodrigo; Hernández Vásquez, Angélica; Méndez-Tello, Károly Mariel. (2019). Educar miradas en resistencia a la colonialidad del ver. Contratexto, n. 32, 2019, 205-228.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Revista de Antropologia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who intend to publish in this journal must agree with the following terms:
- a) Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication. The work is simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License, which allows the work to be shared as long as the author and the initial publication in this journal are appropriately credited.
- b) Authors are authorized to sign additional contracts for non-exclusive distribution of the version of the work published in this journal (e.g., to publish it as a book chapter), as long as the author and the initial publication in this journal are appropriately credited.
- c) Authors are allowed and encouraged to publish and distribute their work online (e.g. on their personal webpage) after the editorial process, for this can generate productive changes as well as increase the impact and citation of the work. See The Effect of Open Access Publications.